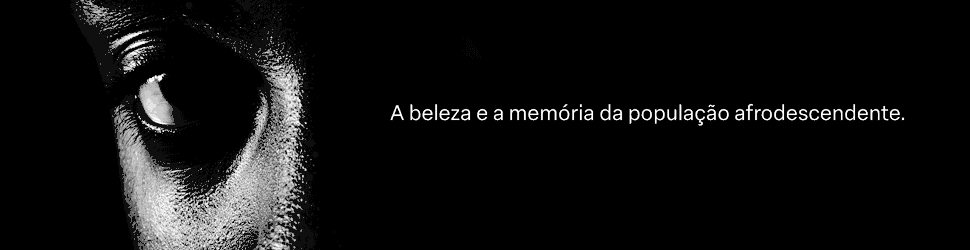Verbetes
Carimbó
Gênero musical, dança e expressão artística de origem amazônica, em particular no nordeste do estado do Pará, o carimbó conta com matrizes africanas, indígenas e europeias historicamente desenvolvidas por setores sociais marginalizados, entre os quais comunidades pesqueiras, rurais e suburbanas. A hipótese é de que o nome advém do tupi curi m’bó: em português, pau oco escavado. “Curimbó” – ou korimbó – também designa o grande tambor tocado nas apresentações do ritmo (…) Menções a carimbó já eram publicadas no século 19, mas de modo depreciativo e persecutório. Entre 1848 e 1880, o Código de Posturas Municipais de Belém estipula a proibição, sob o risco de multa, de “batuques ou sambas” e também de “tocar tambor, carimbó (…)”. Posteriormente, nas três primeiras décadas do século 20, o termo designa não apenas instrumentos sonoros, mas também a dança e a música (…) Antes atacadas e menosprezadas pelas elites econômicas e políticas, as variadas expressões sociais, culturais, artísticas e religiosas vinculadas ao carimbó paulatinamente ganham a apreciação de outras camadas da sociedade paraense a partir dos anos 1920 (…). De qualquer forma, o carimbó, (…) enfim, penetra a indústria musical e midiática na década de 1970.
Multiculturalismo
(…) A globalização do capital e a circulação intensificada de informações, com a ajuda de novas tecnologias, longe de uniformizar o planeta (como propalado por certas interpretações fatalistas), trazem a afirmação de identidades locais e regionais, assim como a formação de sujeitos políticos que reivindicam, com base em garantias igualitárias, o direito à diferença. (…) No campo das artes, o multiculturalismo assume formas variadas, ainda que tenha sempre caráter engajado e intervencionista, definido em função da experiência social do artista: sua origem, pertencimento de classe, orientação sexual etc. (…) Nos Estados Unidos – onde o multiculturalismo é definido e teorizado por intelectuais de origem terceiro-mundista, atuantes nas universidades norte-americanas –, as relações entre produção artística e política estreitam-se na década de 1970. Basta lembrar a criação, em 1969, da Art Workers Coalition – AWC [Coalizão dos Trabalhadores de Arte], em Nova York, e do simpósio organizado pela revista Artforum, “O Artista e a Política”. […] O Brasil parece ficar à margem dessas discussões até a década de 1980, data do fortalecimento e da visibilidade das chamadas minorias étnicas, raciais e culturais. A pressão dos novos atores sociais reverbera diretamente no texto da Constituição de 1988, considerada um marco em termos da admissão do nosso pluralismo étnico.

Projetos
Una Shubu Hiwea – Livro Escola Viva
Na edição 2013-2014 do edital Rumos Itaú Cultura, a Editora Dantes foi selecionada para a publicação de um livro que registrava a sabedoria medicinal dos Huni Kuin, população indígena do Acre. O livro é parte de um projeto mais amplo, que inclui Una Shubu Hiwea – Livro Escola Viva, documentário e site que organizam a pesquisa desenvolvida pela editora Anna Dantes e sua equipe, com membros como o botânico Alexandre Quinet, o etnobotânico Pedro Luz, a fotógrafa Camila Coutinho, o pajé Manuel Vandique Dua Buse, a liderança Huni Kuin José Mateus Itsairu e a escritora Ana Miranda. A Editora Dantes existe desde 1994 e está focada na transmissão e na materialização dos saberes indígenas pela palavra escrita.

A Floresta Que Dorme Debaixo do Asfalto
O líder indígena Ailton Krenak e o permacultor australiano Peter Webb, mediados pela jornalista Natália Garcia, protagonizaram um debate do projeto Brechas Urbanas, em 2016. A ampliação do conceito de floresta e o questionamento sobre como essa experiência pode modificar a cidade são o eixo central da conversa, que aborda o entrelaçamento entre modos de vida, estruturas políticas e meio ambiente. Outra maneira sugerida para a reativação da floresta latente no asfalto das cidades é a escuta da linguagem das plantas e suas formas de comunicação. O Brechas Urbanas é um projeto de debates do Itaú Cultural que busca encontrar soluções inovadoras para os modos de vida na cidade, contando com a participação de artistas, agentes políticos, sociólogos e pesquisadores.

Podcasts Mekukradjá
Apresentado por Daniel Munduruku, o programa tem enfoque na experiência política, social e cultural dos povos indígenas. A palavra que dá nome ao projeto tem origem caiapó e significa sabedoria e transmissão de conhecimento. O uso da linguagem do podcast pode ser compreendido como uma expansão das tradições orais de aprendizado e ensino das culturas indígenas. O apresentador, da etnia Mundukuru – predominante na região do Rio Tapajós –, tem formação em história, filosofia e psicologia, e, além de dezenas de livros publicados, recebeu o Prêmio Jabuti em 2017. Atualmente na sua quinta temporada, o podcast já teve participação de agentes como a curadora Naine Terena, a socióloga Fabiane Medina da Cruz e a cineasta Graci Guarani.