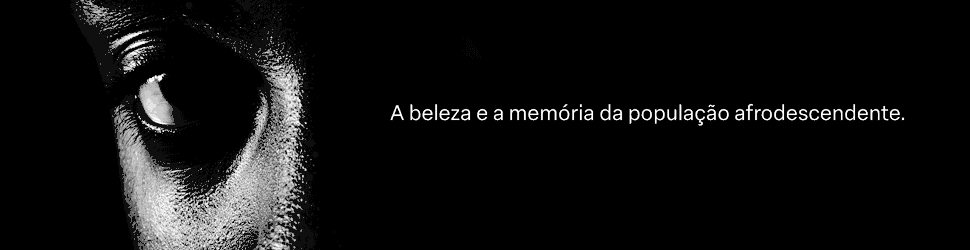O processo que transformou o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC USP) em fiel depositário da coleção da massa falida do Banco Santos começou na Justiça Federal e entre 2004 e 2008 esteve sob a jurisdição do então juiz Fausto Martin De Sanctis. Para ele, se o dinheiro usado para a aquisição das obras era de origem ilícita, essas obras não pertenciam nem à massa falida, nem ao antigo banqueiro Edemar Cid Ferreira, mas à União. Sua medida provisória foi destinar as cerca de 15 mil peças para diferentes museus públicos, como o MAC USP, MAE, IEB, entre outros que pudessem preservá-las adequadamente de acordo com seus acervos.

Ao longo do processo, Sanctis foi promovido a desembargador, deixando a jurisdição do caso e a massa falida abriu um processo pela Justiça Estadual, alegando que as obras eram do banco, ainda que, segundo -o ex-juiz, estivessem declaradas em nome de empresas offshore. Entre esses dois processos distintos, o Supremo Tribunal de Justiça decidiu, em 2016, que a competência para custodiar o patrimônio do Banco Santos seria da vara de falência do tribunal de justiça de São Paulo. Desde então, o processo passou a ser tratado pelo juiz Paulo Furtado de Oliveira Filho, que decidiu pelo leilão da coleção como uma das formas de ressarcimento dos credores.
O museu como fiel depositário
Num processo judicial, quando alguém tem seus bens apreendidos, um terceiro –ou o próprio acusado – é nomeado para ser o fiel depositário dos bens e responder por eles. Este deve receber uma ajuda de custo para seus encargos, de acordo com o código de processos civis, e também pode ser ressarcido pelas despesas realizadas ao longo do desempenho dessa função. Neste caso, o fiel depositário é o museu.
Segundo o MAC USP, foram gastos R$ 20 milhões para manutenção, restauro, pesquisa e apresentação das obras da coleção. Cerca de 500 peças, em especial fotografias, foram mostradas em exposições, não no intuito de exibir o acervo do banqueiro, mas integrando curadorias realizadas a partir de pesquisas em andamento pelas equipes do museu.
No entanto, o juiz que cuida do caso só confirmou o ressarcimento de R$ 37 mil, referentes a notas fiscais de serviços externos, sem considerar o fato de a própria estrutura de trabalho do museu ter se transformado para receber esse acervo.O acervo, que em 2005 tinha cerca de 7800 obras, recebeu o significativo aporte de outras 1500 peças, representando uma considerável elevação de custos de manutenção.
“Me parece que essa contratação não foi feita da melhor forma possível, pois, como um terceiro envolvido no caso, o museu deveria ter estabelecido algumas condições mínimas de trabalho, pois havia custos de preservação, manutenção, restauro, catalogação, que deveriam ser consideradas do ponto de vista econômico”, diz a advogada Cris Olivieri à seLecT. “Mas é possível reaver minimamente as condições desse custeio retroativamente, se ainda estiverem dentro dos prazos para recorrer o processo.”
Uma forma de ressarcimento desejada pelo MAC USP é a inclusão em seu acervo das obras com interesse para pesquisa. Mas, para que isso fosse possível, tanto o desejo de manter a coleção no museu, quanto o debate sobre os custos da coleção deveriam ter sido argumentados junto ao judiciário anteriormente. Na instância judicial, a coleção foi tratada como um ativo qualquer. Embora em textos de parede, legendas e entrevistas elaboradas pelas equipes de curadoria do MAC USP ao longo de todos esses anos, a situação frágil daquela coleção dentro do museu tenha sido declarada publicamente para seus visitantes e a comunidade artística, a discussão não avançou para a esfera jurídica.

Em 2014, uma obra de Roy Lichtenstein e outra de Torres Garcia, que estavam em exposição no MAC USP durante a gestão de Tadeu Chiarelli, já haviam sido leiloadas em prol da massa falida, no início de um processo que veio a culminar agora. O processo repercutiu momentaneamente, mas não foi levado a tempo às instâncias jurídicas.
Um ressarcimento adequado implicaria agora na análise desses gastos por um perito da área, que entenda de Cultura e da máquina pública, considerando, inclusive, o que o museu ganhou com a presença da coleção. O museu perdeu este caso em primeira instância em novembro de 2019, mas ainda é possível haver recurso ao Tribunal de Justiça.
Violação às convenções da UNESCO
Há uma convenção da UNESCO, de 1972, sobre a proteção do patrimônio cultural, da qual o Brasil faz parte desde 1977. Ela compreende um tratamento especial às obras de arte, não apenas financeiro, como está sendo pleiteado aqui. “Baseado nessa convenção e em outras leis, eu fundamentava que bens ilícitos, em especial obras de arte, não podem ser devolvidos a quem quer que seja. Devem ser destinados a entidades culturais por conta das convenções específicas que existem a respeito desses objetos”, diz o desembargador Fausto Martin De Sanctis à seLecT. “O leilão é uma violação das convenções da Unesco e uma violência com a sociedade como um todo, por só se considerar o aspecto financeiro dessas obras.”
O desembargador também defende a tese de que a obra de arte não pode ser apenas quantificada em preço, pois seu valor cultural, estético e histórico a colocam num estatuto especial – o que deve ser considerado pelo poder judiciário. Infelizmente, essa ideia não vingou e a tese econômica foi a que vigorou.
“No meu entendimento, apenas os bens lícitos devem ser usados para ressarcir os credores. Os bens ilícitos não pertencem nem a Edemar Cid Ferreira, nem à massa falida, mas à União, para onde esses bens deveriam ser destinados. E como não existe um museu federal, as obras devem ir para os museus públicos”, continua o desembargador.
Mas o STJ evocou a lei de falência anterior à atual, na qual se alega que todos os bens devem ser devolvidos aos credores. “Muitos dos credores contribuíram para a ilicitude, em empréstimos que corroboravam o desvio de dinheiro. Havia condescendência de parte dos credores em práticas ilícitas, e isso não foi levado em consideração para a compreensão do estatuto especial dessas obras”, diz Sanctis. “É preciso dar um destino que atenda às futuras gerações, não apenas uma solução imediata que favorece os interesses privados.”
Outro argumento contra o desmembramento da coleção é sua coerência e integridade, que acabam desfeitas por sua fragmentação em leilão. “Juridicamente poderia-se argumentar que a coleção é uma obra do espírito e poderia ser tombada”, diz o professor e procurador Marcílio Franca à seLecT. “Se a coleção é reconhecida juridicamente – este termo é usado nos processos e no debate sobre o caso –, sua integridade poderia ser alegada para a preservação do todo, para além da dispersão das partes.”
Em 2005, o Conpresp, órgão do patrimônio histórico da cidade de São Paulo, abriu um processo para tombar a coleção, argumentando ser um todo coerente harmônico – o que vale muito mais do que o valor econômico de cada uma das peças. Misteriosamente, esse intuito não saiu do papel até 2017, quando a entidade finalmente decidiu arquivar o processo.
Sabe-se que, ao longo da formação da coleção, Cid Ferreira contou com o auxílio de diversos advisors. A lei de direitos autorais poderia então ser invocada para proteger a integridade da coleção como um todo, já que ela é fruto de uma construção intelectual de seu antigo proprietário.
Também existem leis que protegem o interesse público da coleção. Mas lamentavelmente faltam às autoridades – entre elas, o poder judiciário –, a conscientização do que seja interesse público. Este caso foi interpretado apenas do ponto de vista do direito privado, e não da sociedade brasileira como um todo.

A obra de arte, diferentemente de outros bens, goza de um estatuto especial confirmado pela própria Constituição e uma série de documentos internacionais como o da Unesco. Sendo um caso suis generis, a questão da obra de arte deve ser tratada respeitando-se o direito da sociedade de acesso ao bem cultural.
“O caminho mais fácil é o economicista e privado, mas é necessário ter uma visão total do processo, que compreenda a origem dessas obras – fruto de dinheiro ilícito – e seu futuro mais adequado – museus públicos que possam preservar, pesquisar e apresentar essas obras para novas gerações”, continua Sanctis. “Não se trata só de condenação e absolvição, tem que se compreender a especificidade de cada caso e a condição especial de uma obra de arte e de uma coleção.”
O leilão
O leiloeiro James Lisboa, de São Paulo, foi o selecionado entre os candidatos interessados em vender e divulgar as obras da coleção. Peças arqueológicas, utensílios domésticos, peças de decoração e obras de arte estão sendo vendidas individualmente desde 21/9 até 2/10, algumas vezes desmembrando séries, como aconteceu com um portfólio de fotografias de Man Ray.
Quem ganha com a venda dessas obras? O leiloeiro, a massa falida e os próprios colecionadores, que muitas vezes compram com intuito de especulação. Mas,considerando que o processo do leilão corre juridicamente, o leilão pode vir a ser interrompido a qualquer momento por um recurso que seja aceito pelo juiz. Há uma série de saídas jurídicas que ainda podem acontecer: suspensão do leilão por meio de alegações; congelamento do dinheiro arrecadado, enquanto o caso do MAC não for resolvido; ou ainda uma crítica do desmembramento da coleção. Mas isso de fato requer um juiz com sensibilidade para o caso.
“Essa questão dos débitos do museu deveria ter sido colocada na mesa antes da realização do leilão”, diz a advogada Cris Olivieri à seLecT. “É um desvario usar dinheiro público para a manutenção de um acervo que está sendo vendido para pagar credores”, continua. “Ficar dentro do museu, com todo o tratamento museográfico, exposição e curadoria, agregou valor sobre essas obras, não é mais apenas uma obra de coleção.”
No catálogo, os preços iniciais estavam muito abaixo dos valores de mercado, como uma estratégia para vender a maior quantidade possível de peças, ajustando os valores de acordo com a demanda. “É a lei do livre mercado”, diz James Lisboa à seLecT. Assim como a estadia das obras no museu agrega valor simbólico, econômico e material às obras, a passagem pelo leilão também pode chegar a transformar o mercado primário fazendo com que os grandes preços do mercado secundário, atingidos no prego, modifiquem os valores de mercado de artistas que continuam vivos e em produção.
As projeções para os valores alcançados pelo leilão (alguns milhões de reais), no entanto, não são suficientes para cobrir os débitos com a massa falida (na esfera dos bilhões), configurando esta apenas uma das tentativas de sanar as dívidas. O que não se reclama é que há devedores da massa falida que poderiam honrar com seus compromissos e ressarci-la preservando os bens de interesse público.
O leilão no momento da publicação desta reportagem, já contava com saldo positivo de cerca de R$ 16 milhões, entre vendas de esboços de Tarsila do Amaral, esculturas de Tunga e uma pintura gigante e intrigante de Frank Stella, produzida durante uma das poucas passagens do artista norte-americano pelo Brasil.
Alegoria da opacidade
Durante sua permanência oculta atrás de uma das paredes do antigo edifício do MAC na Universidade de São Paulo, The Foundling #6, de Frank Stella foi objeto de estudo do artista Victor Maia em seu trabalho de conclusão de curso na ECA USP. A tela monumental simplesmente não cabia nas novas reservas técnicas do museu – desde que este foi transferido para o antigo edifício do Detran – e o trabalho ficou guardado na antiga sede, onde atualmente funciona o Espaço das Artes (EdA). Destinado a apresentações dos alunos dos diversos campos artísticos da universidade – artes plásticas, teatro, música –, o espaço não conta com verba específica para sua manutenção e programação,além de ter um horário restrito de funcionamento (de segunda a sexta das 8 às 20h), o que não atende ao potencial de atração que o espaço poderia exercer dentro da cena cultural paulistana.

O estatuto ambíguo e a dissonância entre o EdA e a obra de Frank Stellafoi discutido num misto de documentário e ficção no vídeo de Maia. O super herói ou anti herói Super Meia –trocadilho com o nome do autor– apresenta os descasos da Universidade com o espaço, bem como com o Departamento de Artes Plásticas, entrelaçando as frustrações de sua formação enquanto artista com as contradições da arte na esfera social. No vídeo, a pintura representa esse paradoxo entre a potência disruptiva da arte e sua relação cordial com as esferas de poder simbólico e econômico. O vídeo foi apresentado em frente às paredes falsas que cobriam a obra, revelando-a como uma alegoria dos processos de opacidade e de censura das instituições culturais e da política brasileira.
A fragilidade da esfera pública
“A dicotomia entre público e privado deste caso não deveria existir, pois não deve haver nem uma solução completamente pública, nem uma completamente privada, como a que está havendo”, diz o professor e procurador Marcílio Franca. “Um meio termo respeitaria o direito dos credores, mas por outras fontes de pagamento que não fossem, de imediato, a das coleções, ou ao menos não aquelas que têm interesse público.”
Como bem analisou Tadeu Chiarelli, no texto O antigo MAM, o MAC USP e a coleção do ex-banqueiro, a própria criação do MAC USP foi fruto de um momento em que uma elite interessada em promover processos de modernização no país, com sua evidente contrapartida de prestígio e controle social, doou sua coleção para uma instituição pública, seguindo o modelo norte-americano. A repetição do binômio interesse privado e espaço público se repetiu, agora como farsa e fragilização do último, segundo o autor.
As indicações de Sanctis foram pioneiras, por, em 2005, compreender a complexidade da arte na esfera pública. Casos de destinação de obras de arte apreendidas se tornaram mais recorrentes desde então, mas o tema só se popularizou quatro anos atrás, com os casos da Lava Jato. No entanto, essa postura ainda é exceção, pois nós não temos um código dos direitos culturais, como temos de direitos penais ou civis.
O Brasil está perdendo coleções que nunca vai poder recuperar, pelo fato de os os museus não terem políticas nem verbas de aquisição pelo valor de mercado – ficando incapacitados de competir com colecionadores privados. A falta de estímulo para doação de obras de arte no país e nos estados, a tributação de doações, entre outros empecilhos, impedem uma política de aquisição para os museus, fragilizando a formação de uma história da arte local.
De tempos em tempos, um museu é destruído pelo fogo, uma coleção privada (mas de interesse público) é exportada para alguma instituição internacional, e vemos ceifadas as poucas políticas públicas que sustentem um campo cultural profissionalizado. A coleção da massa falida do Banco Santos, que esteve nos últimos 15 anos sob os cuidados do MAC USP, é mais uma dessas perdas. A complexidade – que é própria da arte – foi reduzida a mera transação econômica, escancarando a forma simplista como o campo cultural é compreendido nas instâncias políticas e jurídicas do país.