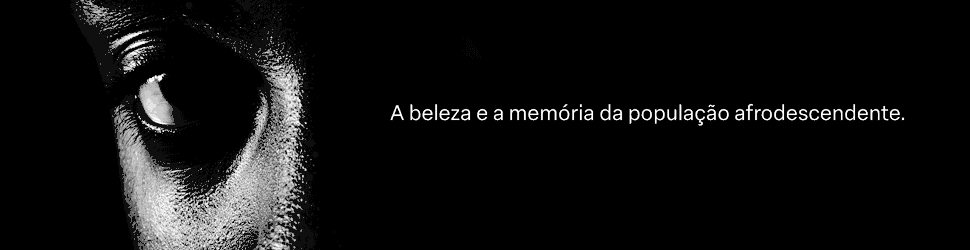O espectador apressado corre o risco de não ver Camadas (José Guimarães) se utilizar as escadas em lugar do elevador para visitar MemoriAntonia: Por uma Memória Ativa a Serviço dos Direitos Humanos, exposição de longa duração inaugurada no dia 3 de novembro de 2021 no Centro Universitário MariAntonia da USP. Com curadoria do professor Márcio Seligmann-Silva e do pesquisador Diego Matos, a expografia confronta imagens documentais, trabalhos de Claudio Tozzi, Cildo Meireles, Carlos Zilio e Fulvia Molina, que enfrentaram a ditadura, e trabalhos de artistas atuais, como Giselle Beiguelman, Leila Danziger, Lais Myrrha, Jaime Lauriano, Marcelo Brodsky, Gilvan Barreto e Rafael Pagatini. O título retoma a exposição de 2003, A Alma dos Edifícios: MemoriAntonia, que celebrou a conclusão do longo processo de devolução do complexo da antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras à Universidade de São Paulo, iniciado em 1991.
MemoriAntonia também é o título da instalação de Fulvia Molina apresentada nas duas ocasiões e composta por totens com retratos de Iara Iavelberg, Aurora Furtado, Jeová A. Gomes, Ísis Dias de Oliveira, Ana Rosa Kucinski e Lauriberto J. Reyes, signatários da lista de presença da Assembléia Geral do Grêmio da Faculdade de Filosofia de 1966. Entre 1971 e 1972, os seis egressos da USP foram mortos por agentes a serviço dos órgãos de segurança do regime militar. Imagens dos manuscritos da lista aparecem sobrepostas aos retratos no trabalho de 2003, reapresentado agora. Em artigo publicado em 2015, a artista Fulvia Molina recorda que “de perto, podia-se ler os seus nomes assinados, e, de longe, a figura humana do estudante morto parecia destacar-se, levantar-se: eram como fantasmas”. De fato, os rostos surgem na escala de corpo inteiro e as caligrafias possuem marcas das presenças corporais que reconfiguram o sentido da expressão “lista de presença”.
LUTO COLETIVO
Imagens funerárias tradicionais demarcam as ausências dos corpos que se foram. Retratos de mortos e desaparecidos políticos reconfiguram essa antiga analogia entre imagem e morte, pois denunciam os crimes ocorridos contra as pessoas retratadas e a violência contra a comunidade como um todo nas formas do crime continuado de ocultação do cadáver e da falta de reconhecimento por parte do Estado sobre as circunstâncias das mortes. Esses retratos subvertem a função tradicional das imagens como componentes do trabalho de luto, tornam-se formas de protesto contra o entrave violento imposto ao luto coletivo. Como “antimonumentos” ou “provocações mnemônicas” conforme Seligmann-Silva, eles apontam para o conluio entre certos setores da sociedade civil e do poder público no exercício da violência institucional contra a comunidade, preexistente à ditadura e que persiste depois dela, mas que, enquanto durou o funesto regime instaurado pelo golpe de 31 de março de 1964, condensou-se em casos exemplares, ainda hoje camuflados pelo trauma, pela impunidade, pelo segredo de Estado e pelo discurso negacionista. Em manifestações artísticas e políticas, os retratos dos mortos e desaparecidos evidenciam a inexistência do “aqui jaz” para as muitas famílias que nunca foram informadas sobre os locais onde foram depositados os corpos dos seus entes queridos.

O rosto do estudante José Guimarães, assassinado aos 20 anos por um tiro de fuzil durante a “batalha da Maria Antônia”, no dia 3 de outubro de 1968, aparece sozinho, sem a companhia de outros trabalhos, na sala de acesso ao elevador, pouco utilizada – uma vez que a exposição se localiza no 1º andar. Sobre singelo papel japonês, pendurado apenas por dois botões na parte superior, forma-se uma imagem imediatamente reconhecível como a fotografia antiga de um jovem. No contexto da exposição, e pela história do edifício, é possível vê-lo como vítima da “violência policial com motivação política”, conforme decisão da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos sobre o caso de José Guimarães em 2004. Ao tentar fotografá-la com um dispositivo eletrônico, porém, a imagem se desfaz em ondas, assim como quando tentamos fotografar telas de computador ou televisão. Apenas com alguns ajustes de foco e posição foi possível registrar o trabalho.
LÁGRIMA OBSCENA
A imagem é obtida por meio de uma rede de pontos, ou retícula, produzida por Rafael Pagatini com quadrados de diversos tamanhos recortados a laser na delicada seda. Como o próprio artista descreve outro trabalho da série Camadas, “a variação da espessura das linhas” é o que “compõe a imagem em contraste com o fundo”. O procedimento é semelhante ao que Pagatini utiliza na xilogravura Manipulações (2016), que também integra a exposição MemoriAntonia. A fotografia em preto-e-branco de um Fusca em chamas, que evoca as sublevações dos anos de 1960, foi coletada na internet e registra um incêndio ocorrido durante as manifestações de 2013 no Brasil. O artista, nascido em Caxias do Sul (RS, 1985) e radicado em Vitória (ES), não propõe uma aproximação entre os dois momentos, mas reverbera as heterogeneidades entre eles.

Se em Manipulações vemos a imagem reticulada impressa, em Camadas (José Guimarães), por sua vez, a imagem se forma pelo contraste entre o papel branco e um fundo escuro obtido pela remoção do reboco atrás do papel, uma “gravação na parede” conforme a descrição da etiqueta. Em meio ao concreto exposto, uma massa adicional de concreto e o que parece ser um tijolo afloram nas partes que coincidem com a testa e com a região da face abaixo do olho esquerdo do retrato. Quando a imagem se forma, essas incrustações aparecem como discretas manchas, que com freqüência se observa em meio aos vestígios de impressão manual nas artes gráficas. O crítico Hal Foster, por exemplo, vê na mancha que encobre a cabeça da vítima em Desastre de Ambulância (1963), de Andy Warhol, uma “lágrima obscena”, que “produz uma segunda ordem de trauma” e “permite que o real irrompa”.
As incrustações na parede do edifício Rui Barbosa aparecem na imagem de José Guimarães criada por Rafael Pagatini como uma lágrima que escorre do olho esquerdo e como a marca do tiro na cabeça, desferido por um membro da milícia “Comando de Caça aos Comunistas” a serviço da polícia, segundo testemunhos coletados pelo jornalista Percival de Souza em Autópsia do Medo (2000) e reproduzidos pela Comissão da Verdade da Assembléia Legislativa de São Paulo. Assim como a tinta escorrida sobre a serigrafia de Warhol, as incrustações sobressaem em meio aos quadrados recortados por Pagatini e evidenciam o realismo traumático do trabalho no Centro MariAntonia da USP.
Material e imaterial, ao mesmo tempo formado pela retícula e gravado no concreto do edifício onde lutou e caiu, o rosto de José Guimarães cria um espaço de contraposição à degradação do retrato que a sociedade facial impõe. Apesar do aspecto etéreo que demarca a ausência, o corpo da imagem é o próprio edifício, o que a liga diretamente ao lugar onde está, a seu “aqui e agora”. Esse rosto é então a antítese dos rostos sem olhar que habitam o ciberespaço, enquadrados por sistemas operacionais, esquadrinhados por biometria, administrados por algoritmos e submetidos à “violência da positividade” apontada por Byung-Chul Han no “capitalismo do curtir”. Por esse “não-lugar”, conforme Marc Augé denomina os locais de passagem por oposição aos lugares antropológicos, os nossos rostos passam sem criar vínculos, participando de ambientes constituídos por simulacros de sentido, ou significações “que pairam” sem significado, segundo certa descrição feita por Fredric Jameson.
POLITIZAÇÃO DA ARTE
Tornar o passado visível por meio das novas tecnologias de reprodução é um ato revolucionário. Porém, as imagens históricas foram relegadas a um presente sem alteridade. Se, conforme Jean Galard, “a guerra das imagens extingue-se na paz dos museus”, certas obras de arte, como o retrato de José Guimarães que delicadamente surge sobre a parede esburacada, produzem o efeito contrário ao desse apaziguamento anestesiante, desfazem a alienação da sensibilidade conforme o raciocínio de Susan Buck-Morss a respeito da noção benjaminiana de “politização da arte”. Rafael Pagatini restitui ao rosto a sua “rostidade” sem evitar os meios que a dissolveram, mas subvertendo-os com uma espécie de “segunda técnica”, conforme Seligmann-Silva, uma técnica “emancipada”, que se origina do “jogo” e não do trabalho imposto como um “sacrifício humano”. O artista joga com o “sistema parede branca-buraco negro” pelo qual Deleuze e Guattari iniciam a descrição da “rostidade”, para criar, no intervalo entre o papel e a parede escavada onde a imagem se forma conforme o caimento da seda, os “lugares de ressonância” que os autores entenderam como os “traços específicos” desta noção e que constituem uma espécie de linguagem não-verbal e não se limitam à face, pois o corpo todo “rostifica-se”.


DA MELANCOLIA AO LEVANTE
Ao brandir a camisa manchada de sangue em passeata pelas ruas do centro da capital paulista, ação registrada pelo fotógrafo Cristiano Mascaro para a revista Veja em fotografia que integra a exposição, os estudantes sublevados da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo criaram um primeiro retrato post-mortem de José Guimarães. A camisa erguida exemplifica a passagem do luto à luta, ou, conforme o filósofo Didi-Huberman, “da melancolia ao levante”. A representatividade dessa ação transparece no documento produzido em 1972 pela Ação Popular Marxista-Leninista, O Livro Negro da Ditadura Militar: “os estudantes saíram às ruas e ficou claro para todos que o CCC e a repressão eram a mesma coisa e que a morte de José Guimarães não foi resultado de brigas de estudantes, mas um crime a mais da ditadura”.
O rosto de José Guimarães ressurge na rua Maria Antônia ao mesmo tempo em que uma esdrúxula decisão judicial determina modificações em três documentos da Comissão Nacional da Verdade inserindo tarjas pretas sobre o nome de Olinto de Souza Ferraz, policial militar que dirigiu a Casa de Detenção do Recife e foi apontado como autor de “graves violações dos direitos humanos” (CNV). O trabalho de Rafael Pagatini, cedido pelo artista à USP, é feito com quadrados milimetricamente recortados em um papel frágil, que se rasga facilmente, por isso exige manipulação cuidadosa, o que corresponde à exigência de cuidado com a memória coletiva a que a decisão procedente da 6ª Vara de Pernambuco não está à altura, juntamente com as diversas manifestações de escárnio diante da dor dos outros por agentes públicos, como o próprio presidente da República. Assim como a camisa transfigurada em retrato e bandeira, o trabalho de arte propõe uma “memória ativa” que transfigura a fragilidade material em potência mobilizadora, visa ao passado e ao futuro, provoca medo em quem deturpa a história para defender incondicionalmente as convenções e a ordem.
______________________________________
José Bento Ferreira é doutor em Artes (USP)