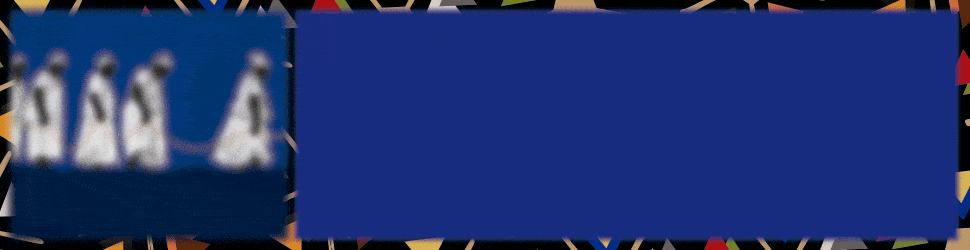“O passado é um sonho que só existe no presente através dos rastros que deixa” (Barbara Glowczewski, Totemic Becomings: Cosmopolitics of the Dreaming)
Na espiral de uma concha vazia, o mar parece sussurrar seu imensurável eco do tempo. O tempo transcorre, mas os sentimentos são como ondas pulsando continuamente. O mundo é sua ininterrupta arrebentação. No oceano, tartarugas gigantes atravessam os mares como os milênios atravessam o tempo, no balanço das ondas que vêm e vão. A vida da Terra surgiu no oceano. No entanto, quem é capaz de saber se os recônditos desse mar sem-fim se assemelham à alma de uma mulher? Quem poderá medir a sua exata profundidade?
Attabey, ou Attabeira, é um dos nomes da Mãe das Águas, a divindade relacionada à lua, à maré e à menstruação é a mãe da vida para os povos indígenas Taínos. Originários da caverna mítica Cacibajagua, os Taínos são habitantes da ilha que hoje conhecemos como Hispaniola (República Dominicana e Haiti) e foram os primeiros indígenas a (como eles mesmos dizem) descobrir Cristóvão Colombo, em outubro de 1492. “O povo que hoje chamamos de Taínos descobriu Cristóvão Colombo e os espanhóis. Não foi Cristóvão Colombo que nos descobriu, pois estávamos em casa e eles, perdidos no mar, quando desembarcaram em nossas praias”, diz o líder Jorge Baracutei Estevez (da Higuayagua, uma organização taína de Nova York e da região do Caribe), em entrevista à National Geographic, em 2019. Africanos de língua Bantu chamam o mar de Kalunga. Kalunga é o que separou o nada de toda a existência, a força que gera continuamente, princípio de todas as mudanças da Terra. Kalunga é um corpo de água, o lugar onde vivem os ancestrais, um cemitério. Tiganá Santana, em sua tese de doutorado (A Cosmologia Bantu-Kongo por Bunseki Fu-Kiau: Tradução Negra, Reflexões e Diálogos a Partir do Brasil), cita o pensador congolês Kimbwandende Kia Bunseki FuKiau: “O Mundo (Nza) tornou-se uma realidade física pairando em Kalunga. (…) Kalunga, que também significa oceano, é um portal e uma parede entre dois mundos. Kalunga tornou-se também a ideia de imensidão (sènse le/ wayawa) que não se pode medir; uma saída e entrada, fonte e origem da vida” (Kindoki ou Solution Attendue, 1970).

A MANCHA DA VIDA
Na visão ocidental, a origem da vida é o oceano primitivo, quando há, aproximadamente, 3.770 bilhões e, possivelmente, 4.280 bilhões de anos, micro-organismos passaram a produzir o oxigênio nas fontes hidrotermais. Esse oxigênio, liberado no processo de fotossíntese de micro-organismos (tais como as cianobactérias ou algas azuis), interagiu com o ferro (proveniente de rochas que se encontram dissolvidas na água do mar), precipitando no leito oceânico um mineral vermelho: a hematita (pedra do sangue), ou óxido de ferro (Fe2O3), mais popularmente conhecido como ocre.
Foi a descoberta de microfósseis que continham filamentos de hematita, encontrados no Cinturão de Rochas Verdes Nuvvuagittuq, em Quebec, no Canadá, que comprovou, de acordo com o filósofo da ciência David Turnbull, que,”geologicamente, o ocre é a mancha da vida, o indicador de nascimento de todos os organismos na Terra”. O ocre vermelho é o primeiro pigmento que a humanidade utilizou para pintar seu próprio corpo, as cavernas e os abrigos rochosos. O ocre é o sangue que deu vida à arte. E foi utilizado em todos os continentes do globo terrestre, exceto a Antártica. Por fazer alusão ao elemento comum na menstruação, no parto e no aborto, essa pedra do sangue foi concebida por diversos grupos humanos como um símbolo de nascimento, vida e morte.
Para os aborígenes nos Flinders, na Austrália, o ocre está relacionado ao sangue sagrado dos ancestrais, sendo “um símbolo de renovação espiritual e limpeza ritual, um agente de transcendência, da doença à saúde, da morte à renovação, da sujidade à limpidez ritual, do secular ao sagrado, da realidade presente ao Sonhar”, como afirma o antropólogo Philip Jones.
A antropóloga e curadora Sandra Benites (Guarani Nhandeva, amiga e parceira em diversas obras e projetos curatoriais) define a Terra como um corpo vivo: “Ela é o corpo de uma mulher, Nhandecy Eté, nossa mãe primeira. Quando andamos sobre a Terra, estamos pisando sobre o corpo de uma mulher”. As cavernas são, portanto, uma espécie de útero de Nhandecy Eté, e o seu sangue ocre nos aproxima das origens da humanidade. Como aponta Jones, “o ocre vermelho desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento filosófico da humanidade, (…) um fio que corre por mais de 500 mil anos de história humana”. Esse fio está intrinsecamente ligado ao trabalho e à criatividade das mulheres que desempenharam um papel crucial de formulação do imaginário humano e desenvolvimento de tecnologias de conexão e colaboração – o que, entre outras coisas, permitiu aos seres humanos a capacidade de navegar, de lançarmo-nos no além-mar.
Por meio da história do ocre, é possível expandir a compreensão sobre os diferentes significados de nossa presença na Terra, para re-imaginar e re-criar, no presente, outra origem do futuro.

Teriam sido as mulheres as primeiras artistas?
Em uma concha descoberta na Ilha de Java, na Indonésia, desenhos em ziguezague aparentemente feitos com um dente de tubarão (datado em 400 mil anos Antes do Presente) são a evidência mais antiga encontrada até este momento de que os nossos ancestrais humanos (Homo Erec-tus) produziram arte.
Um desenho em ziguezague, feito com ocre vermelho em um fragmento de rocha datado em 73 mil anos Antes do Presente, é também a primeira evidência encontrada até o momento de nossa própria espécie (Homo Sapiens) criando arte. Esses desenhos foram encontrados no que poderíamos considerar como um ateliê dos primeiros humanos modernos: a bela caverna de Blombos Cave, localizada diante do Oceano Índico, na África do Sul. Nessa mesma caverna foram descobertas conchas do mar datadas em 100 mil anos A.P., utilizadas como palhetas para misturar ocre (que, além do vermelho, também podem ter a coloração amarela e branca), e que já cumpriam um papel fundamental no que até hoje as mulheres mantêm como um rito indispensável de beleza: a pintura corporal.
No outro extremo do continente africano, no Marrocos, arqueólogos encontraram conchinhas pintadas de ocre vermelho e perfuradas para formar um colar (datadas em 82.500 anos A.P.), o que seria a prova de que já então a tecnologia de produção da corda havia sido inventada. Segundo a arqueóloga Elizabeth Barber, em seu livro Women’s Work (Trabalho das Mulheres, 1994), a invenção da corda foi a revolução que permitiu aos seres humanos se moverem em todos os continentes, pois a partir da corda foi possível capturar, reter, unir, carregar, criar instrumentos para pesca, bem como tecer as velas para atravessar o mar.
Neste lado do Atlântico, em um vasto território (em ilhas, nos estuários de grandes rios e no litoral brasileiro do Norte ao Sul) montanhas de conchas chamadas de Sambaquis (que podiam chegar a 30 metros) foram erguidas por mais de 7 milênios para enterrar ossos humanos pintados de ocre. A forma como lidamos com a morte transformou a paisagem no Atlântico.
No Atlântico Norte, no continente europeu, há, aproximadamente, 65 mil anos, nossos ancestrais Neandertais já pintavam com ocre vermelho figuras abstratas, deixando marcas (em negativo) de suas mãos no interior da caverna de La Pasiega, no Monte El Castillo, em Cantábria, na Espanha. Dando continuidade à tradição iniciada pelos Neandertais, Homo Sapiens nas cavernas desse mesmo Monte passaram a pintar, a partir de 40 mil anos A.P., além de símbolos abstratos, dezenas de figuras de animais, deixando outras marcas de mãos.
Essas imagens (em negativo), que também estão presentes em outras cavernas paleolíticas na Europa, além de provarem a importância crucial da performance ritual de pintura corporal com ocre nas origens da arte, possibilitaram que o arqueólogo Dean Snow, do Pennsylvania Institute of Technology, pudesse afirmar que 73% das mãos corresponderiam à mão de mulheres cis – ele estudou 32 sítios arqueológicos no conjunto de cavernas de Monte El Castillo e, na França, as cavernas de Azar Merle e Gargas, levantando uma importante questão: teriam sido as mulheres as artistas nas origens da arte?
Realizei uma série de performances rituais do Projeto Ocre nas Cavernas do Monte El Castillo, defendendo a fundamental importância de reconhecermos o papel das mulheres enquanto artistas, isto é, de assumir que mu- lheres (cis ou trans) foram e são tão protagonistas e cria- doras do imaginário humano quanto os homens.
Um traço machista da arqueologia
Além dessa ação no Monte El Castilho, criei performances rituais na Caverna El Chufín (Cantábria, Espanha) para chamar atenção para a quantidade expressiva de figuras de vulvas na arte paleolítica europeia, que, certamente por razões conectadas à secular opressão de gênero, não foram tão divulgadas, portanto, não fazem parte do imaginário global sobre arte rupestre como os bisontes de Altamira. Mais impressionante que o famoso quadro pintado por Gustave Courbet, A Origem do Mundo (1866), é a imagem da vulva ocre da Caverna El Chufín, onde, aproveitando os relevos naturais da própria caverna, artista(s) pintaram em ocre há 18 mil anos uma realística imagem de uma vagina no teto da caverna. No outro lado dessa mesma caverna, parece ter sido pintado o que aparenta ser o corpo de uma vênus. Na performance realizada no local, levo comigo uma réplica da Vênus de Willendorf (que estava coberta por ocre vermelho quando foi encontrada na Áustria) para discutir um traço machista da arqueologia: a ideia de que o corpo de uma mulher deve estar, necessariamente, ligado ao símbolo da fertilidade para ser representado na arte. Não é necessário estar grávida para aparentar a forma de uma vênus paleolítica, como comprova a fotografia em que a sombra de meu corpo se assemelha à da Vênus em minhas mãos. A gravidez, em qualquer tempo, pode ser desejada ou indesejada para uma mulher (pois, como sabemos, ervas capazes de induzir o aborto e de diminuir ou aumentar a fertilidade fazem parte do repertório de qualquer cultura). Portanto, parece absolutamente justificado e plausível que mulheres possam representar a si mesmas em esculturas e pinturas sem precisarem estar grávidas. Fazem parte do conjunto de séries do Projeto Ocre as obras que realizei no Parque Nacional da Serra da Capivara (local com a maior concentração de arte rupestre das Américas), onde foram encontrados pela arqueóloga Niède Guidon vestígios de presença humana de 48 mil anos Antes do Presente. Nessas performances rituais com a atriz indígena Sandra Nanayna Tariano e os “gente-pedra” (como ela define os espíritos-pinturas rupestres), abordo a importância da relação entre a pintura corporal e a pintura rupestre (corpo-território, pele-pedra) para os povos indígenas. Partindo da investigação desse tema, recuperei a tecnologia de carimbos de cerâmica para pintura corporal (que surgiu na Amazônia, no Sambaqui de Bacanga, há 6,6 mil anos) para criar meus próprios carimbos, que es- tampam o corpo de Nanayna na frente da representação de uma mulher grávida na Toca da Pinga do Boi.
Era da reprodutibilidade da imagem
A partir dessa experiência e investigações nesse sítio arqueológico, formulei a teoria de que, na América do Sul, a origem da reprodutibilidade técnica da imagem está intrinsecamente associada à pintura corporal. Ao contrário das mãos de ocre do continente europeu, as mãos de artistas no Parque Nacional da Serra da Capivara foram feitas em positivo e no centro de suas palmas estão desenhos em espirais que se repetem de forma idêntica em múltiplas imagens. Por essa razão, é possível que essas espirais tenham sido feitas com um carimbo que transferiu a imagem para a palma da mão e que depois foi estampada no paredão rochoso.
Nessa mesma série, trago à tona pinturas rupestres em que as mulheres aparecem em cenas de sexo, gravidez e parto. E confronto essas imagens com performances que realizei nesses mesmos locais. Na performance ritual O Aborto de Vênus (2019), na caverna Toca do Inferno – que leva este nome por ser uma jazida de Ocre –, discuto o tabu do aborto. Embora seja um assunto tão central, complexo e doloroso para os corpos com útero (estando di- retamente relacionado ao poder de escolha, da afirmação da decisão da mulher sobre seu próprio corpo e destino), o aborto é ainda ausente no repertório de imagens que ocupam um lugar na História da Arte. Salvo raras, mas importantes, exceções, como o caso de Frida Kahlo (“Uma dose de quinino e uma purga de óleo de rícino muito forte” são as substâncias que Frida ingeriu para provocar um aborto, conforme conta em uma carta para seu médico e amigo Leo Eloesser), o quanto temos tido a possibilidade de elaborar na arte a experiência do aborto?

Essa performance ritual, portanto, é uma tentativa de cura dos traumas causados pelas violências de gênero dentro do ventre ocre de Nhandecy Eté e, ao mesmo tempo, um aborto literal da visão ocidental (representado pelo sím- bolo de Vênus) neste corpo-território.
Espero que, nesta década dos oceanos (2021-2030) declarado pela ONU, possamos contribuir, através da arte contemporânea brasileira, para a expansão no horizonte conceitual do mundo Atlântico, a fim de abarcar outro marco temporal fundacional (que não apenas o legado pela colonização): O Tempo de Origem. Pois o desafio de garantirmos a continuidade da diversidade da vida no planeta depende em grande medida de ampliarmos a nossa compreensão sobre os Seres da Terra (humanos e não humanos), transformando paradigmas.
Que as cosmovisões dos povos indígenas e africanos nos ajudem profundamente, neste corpo sagrado de Nhandecy Eté, a enxergar o coração antigo do futuro.