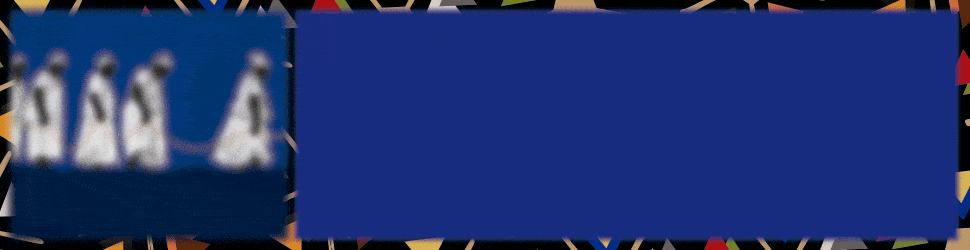Estética da fome, ou seja, estética da violência. O cerne do manifesto escrito por Glauber Rocha em 1965 reside na legitimação da violência do oprimido, ecoando tanto o pensamento de Frantz Fanon – que se tornara figura central nos debates sobre descolonização e terceiro-mundismo – quanto o de Paulo Emílio Salles Gomes, que, em 1960, publicara o decisivo artigo “Uma situação colonial?”.
Em retrospecto, o manifesto de Glauber soa menos como um programa estético para os anos subsequentes do que como um resumo histórico da primeira fase do Cinema Novo, aquela encerrada com o golpe militar de 1964. Essa fase inicial do movimento fora marcada, de um lado, por documentários como Aruanda (Linduarte Noronha, 1960) e Maioria absoluta (Leon Hirszman, 1964) – em que os cineastas assumiam o discurso do intelectual-que-fala-em-nome-do-povo e davam uma explicação sociológica para as principais mazelas do país (fome, analfabetismo) – e, do outro, por longas-metragens de ficção como Porto das Caixas (Paulo Cesar Saraceni, 1962), Vidas secas (Nelson Pereira dos Santos, 1963) e Os fuzis (Ruy Guerra, 1964), em que a representação das forças sociais se dava concomitantemente à busca por uma expressividade plástica e por uma experimentação formal que desafiassem as convenções do cinema industrial dominante.
Dois anos antes, no livro Revisão crítica do cinema brasileiro, Glauber já havia formulado a questão, sobretudo quando identificara no caso da falida Vera Cruz um exemplo da inviabilidade econômica e da tibieza estética de uma indústria aos moldes hollywoodianos no Brasil. Ele opunha o cinema de autor revolucionário ao cinema de artesão conformado ao comércio.
O manifesto de 1965 marca, em relação ao livro, a adoção de uma postura mais radical, avessa a qualquer hipótese de conciliação. A linguagem do cinema anticolonialista deveria assumir a precariedade de recursos: a estética da fome seria aquela que não disfarçaria a pobreza, mas a internalizaria na forma, encontrando uma duração, um ritmo de montagem, um estilo de iluminação que correspondesse à experiência da miséria e à condição de subdesenvolvimento.
É no cinema do próprio Glauber Rocha, mais precisamente em Deus e o diabo na terra do sol (1964), que tal estética alcança o ápice. A violência é onipresente: está na truculência dos donos da terra, no fanatismo religioso que produz a histeria messiânica, no banditismo social encarnado na figura do cangaceiro, no mercenarismo contraditório de Antônio das Mortes. Violência barroca, épica, produtora de páthos, catalisadora de tensões estilísticas. A escassez de recursos é compensada por um transbordamento de invenções de mise en scène e de montagem.
Mas a “galeria de famintos” – que, nas palavras do próprio Glauber, constituíra o núcleo dramático central do Cinema Novo até 1964 – estava já cedendo lugar, no momento mesmo em que o texto era escrito, a outros protagonistas, do intelectual de classe-média desiludido ao pai de família conservador e hipócrita. Até o final da década, a estética da fome terá sido substituída pelos excessos glutões e escatológicos do Cinema Marginal, pelo vômito de Helena Ignez em Sem essa, aranha (Rogério Sganzerla, 1970), pela cena antológica de Wilza Carla devorando latas de sardinha e de goiabada em Os monstros de Babaloo (Elyseu Visconti, 1971), caricatura voluntariamente grotesca do hiperconsumismo vulgar que conferia ao “milagre econômico” sua sustentação ilusória.
O cinema brasileiro da década de 1970, em geral, estaria mais focado na representação da burguesia decadente do que da população que passa fome (apesar das exceções significativas, como Iracema – uma transa amazônica, de Jorge Bodanzky e Orlando Senna). No contexto da hiperinflação do final dos anos 1980, porém, o alimento se tornaria o assunto de um dos curtas-metragens mais celebrados da história do cinema brasileiro: Ilha das Flores (1989), de Jorge Furtado, irrefutável máquina retórica que perfaz a trajetória de um tomate – da prateleira do supermercado, onde é comprado, à cozinha da dona de casa que o desperdiça, e daí ao lixão onde os alimentos que não servem para os porcos são finalmente disputados por uma legião de seres humanos famintos. O estilo artificioso das imagens publicitárias, parodiado no começo do curta, é corroído depois pela realidade chocante da miséria. Mas o dispositivo de Ilha das Flores é menos tributário da estética da fome do que de uma ideia de documentário ensaístico que remete a Alain Resnais, Chris Marker e Luc Moullet.
https://www.youtube.com/watch?v=bVjhNaX57iA
Da segunda metade dos anos 1990 até meados da década seguinte – ou seja, no período conhecido como “retomada” –, a estética da fome seria tratada como um espectro assombroso, como um fantasma projetado pelo passado do cinema brasileiro. Estaria esquecida, ou melhor, recalcada. Embora a pobreza continuasse sendo um dos temas mais revisitados pelos filmes, seu sintoma mais concreto, a fome, não ficaria em primeiro plano. Afinal, era difícil pensar na fome enquanto se filmava com a barriga saciada pelos fartos e custosos serviços de catering que se tornaram tão comuns no cinema brasileiro daquele momento, caracterizado por um comportamento perdulário de novo-rico.
Falou-se, então, em “cosmética da fome” – expressão cunhada por Ivana Bentes mais ou menos à época em que Cidade de Deus (2002) se consolidava como fenômeno de público e gerava ampla repercussão socio-midiática. No filme de Fernando Meirelles e Kátia Lund, a pobreza e a violência eram tratadas com um verniz que, sob o velho álibi da denúncia social, reinventava o exotismo formal e a estilização mistificadora já combatidos por Glauber em 1965, mas cujo retorno no Brasil dos anos 2000 integrava um contexto cultural maior, que incluía, por exemplo, o voyeurismo antropológico capitalizado pelos abomináveis favela tours.
A estética da fome já não podia corresponder a um cinema de ambições comerciais que, na busca de comunicação com o grande público, assimilava desenhos de produção e códigos estilísticos adequados a um padrão estético internacional, capaz de aclimatar as realidades locais às estratégias dramáticas “universais” do modelo de espetáculo dominante. Mesmo quando deliberadamente procurou dialogar com o Cinema Novo, como no caso de Walter Salles (Central do Brasil, Abril despedaçado), o cinema da retomada – em seu esforço de fabricar imagens lustrosas, que refletiam o desejo da burguesia brasileira de se internacionalizar – esteve muito distante da estética da fome e muito próximo de um fetichismo da técnica assaz provinciano.
Curiosamente, foi em Garapa, documentário de José Padilha – mais conhecido por Tropa de elite e pela série O mecanismo –, que a fome apareceu tematizada frontalmente. O filme aborda famílias que sobrevivem da dieta marasmada de água com rapadura. O estilo de filmagem à maneira do cinema-direto e o reemprego do preto e branco com luz estourada à maneira de Vidas secas parecem tentativas de se filiar a escolas estéticas legitimadas e de retratar a miséria com certa crueza. Mas a inabilidade ao lidar com o tema é tamanha que toda boa intenção se converte em exposição grosseira e quase obscena – como nos planos-detalhe da pele maltratada de crianças subnutridas, que revelam como o diretor não sabe filmar a ferida social senão recorrendo a figurações explícitas.
https://www.youtube.com/watch?v=TMQYx546Zb8
Nas duas últimas décadas, paralelamente à tentativa de encontrar um público para o cinema brasileiro de vocação mais comercial, valorizou-se – no circuito dos festivais e das salas voltadas para o filme autoral – um registro minimalista que se coloca nos antípodas das totalizações históricas e das condensações alegóricas arriscadas pelo Cinema Novo: focalizam-se aí os pequenos afetos, os laços sociais construídos na escala doméstica, os acordes em tom menor – um cinema de tempos mortos e de personagens absortas em atividades cotidianas.
Mas os não reconciliados, os que vêm sobrevivendo à margem tanto do capitalismo globalizado quanto das políticas sociais, têm dado as caras com frequência cada vez maior desde o início da recessão econômica. Em A vizinhança do tigre, de Affonso Uchôa, a câmera se faz receptáculo da pura força de presença de um grupo de jovens da periferia de Belo Horizonte, alguns já com histórico de prisão. Filma-se a convivência, a alternância entre momentos de pose e de ação, entre o retrato individual e o coletivo. A estratégia de resistência não passa mais pela denúncia social, tampouco pela agitação revolucionária daqueles três ou quatro anos em que a estética da fome pautou o Cinema Novo, mas pela fenomenalidade imediata, pela imersão no quadro existencial em que sujeitos à margem do sistema conduzem suas vidas.
Se, no manifesto de 1965, Glauber clamava por uma rejeição absoluta do cinema hegemônico, no último decênio testemunhou-se uma tentativa crescente por parte do cinema brasileiro mais politicamente engajado de incorporar técnicas de narração e protocolos estilísticos dos gêneros convencionais, principalmente o terror. Basta lembrar que o filme brasileiro mais debatido de 2019, Bacurau, apropria-se de uma série de expedientes do cinema de ação hollywoodiano para ressignificá-los em favor de personagens que, outrora na posição de oprimidos, doravante se recusam a ocupá-la. É como se a população da pequena cidade de Os fuzis, em vez de se entregar à apatia, atendesse à conclamação de Gaúcho (personagem de Átila Iório, que no ano anterior interpretara Fabiano em Vidas secas) e se sublevasse contra os opressores. A estética da fome – que, no filme de Ruy Guerra, culminava naquela sequência final em que o povo se digladiava pela carne de um boi morto pela seca do sertão – agora está guardada como acervo iconográfico em um museu que, material e simbolicamente, municia a população de Bacurau na resistência à invasão bárbara (representada pelos estrangeiros, mas também pelos brancos do Sudeste). Reaparece a afirmação da violência como resposta legítima ao opressor, mas desaparece a premissa da precariedade de recursos: Bacurau tem a magnitude dos espetáculos de aventura da grande indústria, ainda que lance mão (de maneira extremamente calculada) de alguns clichês decalcados do filme de ação de série B. A estética da fome deu lugar a um banquete de signos em que, bem ao gosto pós-moderno, os ícones do “ciclo rural” do Cinema Novo podem se aliar a toda espécie de referência – do faroeste clássico às séries distópicas de sucesso, do cangaço pop de Baile perfumado às políticas identitárias contemporâneas – e formar um foco de resistência política.
Os habitantes de Bacurau, por uma lógica que o filme se exime de explicar, não possuem água nem terra fértil para plantar, mas nem por isso se sentem na obrigação de aproveitar a comida estragada doada pelo prefeito. Ainda assim, não passam fome. Pelo contrário: Sônia Braga, a médica da comunidade, oferece uma farta refeição ao vilão mor. Ao fim e ao cabo, a principal privação que assombra Bacurau é a queda do sinal de internet.