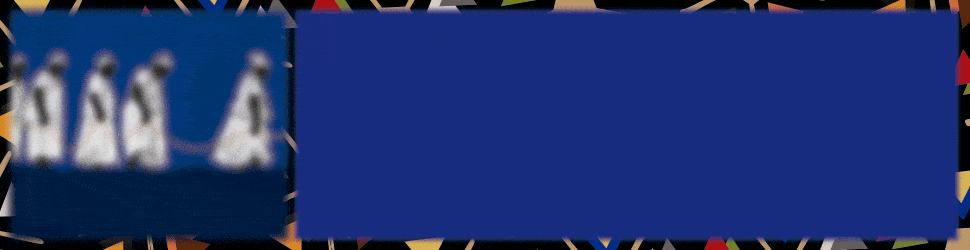Caros leitores, permitam-me uma insolência: eis que, em meio à pandemia global e diante do conteúdo aparentemente ilimitado que o exército de mão de obra artística faz circular diariamente durante a quarentena (entre tours em museus, curadorias online, web residências etc), foi precisamente uma campanha nada cool do Canal Arte 1, do Grupo Bandeirantes, aquilo que mais me despertou atenção.
Refiro-me a uma espécie de do it yourself do mundo do entretenimento, que pede que nós, cidadãos confinados, reencenemos obras de arte com o próprio corpo.

De fato, pareceria lírico, não fosse o pressentimento de que a gravidade do atual momento torna todo sentimentalismo passível de suspeita. Foi-se o tempo em que podíamos afirmar com algum grau de convicção que a arte imita a realidade. Há décadas, Cindy Sherman parodiou pinturas célebres mostrando o que de artificial havia nelas; Orlan, se submeteu a uma série de cirurgias plásticas para simular a aparência das musas da arte ocidental, da Monalisa à Vênus de Boticelli. Era uma provocação, é claro.

(Foto: Reprodução, Metro Pictures /Cindy Sherman)
Hoje, reencenamos a arte “realista” buscando qualquer alento para nossas vidas restritas. Infeliz constatação de que a prerrogativa evocada pela internauta, de fazer da vida cotidiana uma obra de arte, despiu-se de quaisquer pretensões libertárias para tomar contornos cínicos. Triste soa o grito de Tristan Tzara:
Abolir a arte
abolir a vida cotidiana
abolir a separação entre a arte e a vida cotidiana
Mas vejamos o fenômeno por outro ângulo. Ao que tudo indica, dias antes do Arte 1, o canal de instagram @tussenkunstenquarentine (que conta com mais de 280 mil seguidores) havia postado centenas de fotografias reencenando pinturas antigas. A brincadeira já estava em vigor nas redes, como uma verdadeira febre mundial: uma volta aos clássicos – agora, envoltos em papel higiênico e lambuzados de álcool gel.

São os coronamemes, dos quais rimos com ironia. Dos quais, para além da reação imediata, não resta senão um efeito desconcertante. Afinal, se o esforço de artistas aqui e ali foi denunciar a artificialidade, a normatividade e a falta de representatividade da arte ocidental, por que nos sentimos impelidos a voltar à pintura como modelo para ressignificação de nossas vidas sem vida?
Poderíamos argumentar que não se trata de apropriar-se da arte como modelo, mas de criticá-la. Desse viés, os coronamemes atestariam antes o estado precário da arte que o de nossas vidas. Contudo, não estamos diante de uma iniciativa seleta, mas da expressão de todo um contingente anônimo, que impõe uma espécie de revival do que muitos haviam declarado morto, isto é, a pintura. A questão, portanto, permanece: por que, agora, reencenar os clássicos?

Revivalismo
Ao voltar-se aos movimentos revivalistas na arte do século 19, Giulio Carlo Argan faz considerações que – resguardadas as distâncias – servem-nos de reflexão: para ele, esses movimentos despontam quando viver só parece possível revivendo. Eles são sintoma da falta de vontade de encarar o presente e da incapacidade de conceber o futuro. O que não significa, a rigor, conservadorismo: trata-se antes de uma atitude de evasão do que da recuperação de valores antigos. Não à toa, o passado ao qual se retorna tem a inconsistência e a rigidez de coisas mortas, fantasmas. Ele não é visto desde uma perspectiva histórica, mas como um repositório de formas atrofiadas.
Reencenar pinturas antigas esterilizando-as com álcool 70%, portanto, não implica a reverberação entre arte e vida, mas revela o profundo descompasso entre ambas. No desamparo, a volta às formas do passado dissimula, a duras penas, uma atitude de renúncia. Por isso mesmo, o efeito desolador, que não se encerra no simples eclodir do riso irônico.
Ora, é natural que diante de um vírus desconhecido, nos sintamos nostálgicos. Além disso, é conhecida a gradual descrença na noção de futuro da qual somos herdeiros. Se, desde o início do século passado até maio de 1968, o futuro era imaginado de forma eufórica, apesar das tragédias, guerras e massacres, hoje ele não parece promissor, mas amedrontador. Não acreditamos no futuro. Acreditamos em sua existência, é claro, mas não em qualquer possibilidade redentora de futuro. Sequer conseguimos imaginá-lo. Pois o futuro não é uma dimensão natural da mente humana, mas uma modalidade de percepção que se transforma no curso da história.

Ao descrever este estado de coisas, Franco Berardi atribui a falta de confiança no futuro, entre outros fatores, a uma desenfreada colonização do ciberespaço e do ciber tempo, que arrefece nossa capacidade de sensibilidade e empatia. Parece que está se constituindo, ele diz, uma geração cuja competência sensorial e capacidade empática se reduzem em uma escala inversamente proporcional à internalização do universo digital. Pois nosso poder de elaboração do tempo e do espaço não é ilimitado, como o mundo virtual solicita.
Em extinção, é justamente a empatia – que, em linhas gerais, pode ser definida como “a capacidade de um indivíduo sentir as necessidades, frustrações, alegria e até mesmo a fome dos outros como se fossem suas” – o que falta a Bolsonaro quando ele vocifera “e daí?”, ao ser questionado sobre as vítimas da Covid-19. Capacidade hoje em alto apreço entre psicólogos, a empatia foi formulada primeiramente no campo da estética, precisamente da estética do século 19 e se disseminou no início do século passado a partir da publicação da tese de Wilhelm Worringer, que a concebe como um dos dois pólos de sensibilidade que permeiam a história da arte.
Da empatia, reconhece Worringer, resulta o prazer de contemplar uma obra naturalista. Ele não deriva da mimese de formas naturais, como em geral se concebia, mas da capacidade do sujeito de projetar-se nas linhas orgânicas de um objeto que lhe é extrínseco.
O assunto é complexo e mereceria cautela. Interessa aqui apenas notarmos que essa empatia não prosperaria como critério absoluto nas artes visuais. Pelo contrário: grande parte da produção artística, especialmente até 1960, procurou, em sintonia com Worringer, valorizar precisamente o outro dos polos de sensibilização estética, o da abstração.
É curioso, portanto, que hoje, mais de um século depois, atestemos o desespero de internautas por projetar-se em formas antigas de arte – e, notadamente, da arte “naturalista”. É como se tivéssemos perdido a dose de empatia que permite nossa conexão com uma pintura e precisássemos trazê-la de volta ao cotidiano palpável. Como interpretar o gesto de colocar máscaras cirúrgicas nas figuras de uma pintura de Caravaggio, senão como tentativa aflita e um tanto literal de encontrar o último fio de sensibilidade que torna possível a contemplação?
Claro que não defendo a reabilitação do naturalismo, e tampouco sugiro que a perda da relação empática com a obra de arte seja resultado direto da pandemia global. Em 2019, por exemplo, o Museu Nacional de Belas Artes aumentou em 78% sua taxa de visitação após lançar uma campanha (em parceria com uma agência publicitária) que marcava pinturas oitocentistas com hashtags divertidas. Pouco antes da eclosão da Covid-19, já era evidente que uma forma eficaz e indolor de despertar atenção para a pintura do século 19 era remetê-la ao universo tangível do público, situando-a a meio palmo de seus olhos como uma tela de celular. A consequência, a longo prazo, é a miopia.

É inquietante, por isso mesmo, que no preciso momento em que a pandemia deflagra uma sociedade desesperada diante do confinamento virtual, o mundo da arte renda-se impiedosamente à “inércia produtivista” do “regime 24/7” (para usar os termos de Patrícia Mourão e Jonathan Crary, respectivamente).

Por um lado, não deixa de ser compreensível. Mais do que nunca, o confinamento torna o não aparecer quase sinônimo de não existir. Mas, enquanto o mundo da arte se predispõe à perpétua interface com o universo digital, o que este lhe devolve é a imagem disparatada de uma vida cotidiana que retorna à pintura de outrora, buscando o resgate de um elo prestes a se desatar. Ora, de que adianta produzirmos teras e terabytes de novos produtos culturais se seus destinatários perdem consideravelmente o poder de empatia? Sei que é necessário sobreviver, e iniciativas de apoio são imprescindíveis. Mas paremos e pensemos: será justo exigir dos artistas que sejam os primeiros na corrida para forjar o imaginário de uma sociedade que perdeu a capacidade de conceber o futuro? Assumirá a arte o papel de válvula de escape da dinâmica capitalista que nos leva ao colapso?
O entretenimento, é claro, já cumpre essa função. Em quarentena virtual, os papéis da Netflix não param de valorizar…
Janaína Nagata Otoch (São Paulo, 1991) é mestre e doutoranda em História, Teoria e Crítica de arte pelo Programa Pós-Graduação em Artes Visuais da ECA-USP.
Os textos de opinião não refletem necessariamente a opinião da revista e são de responsabilidade integral dos autores