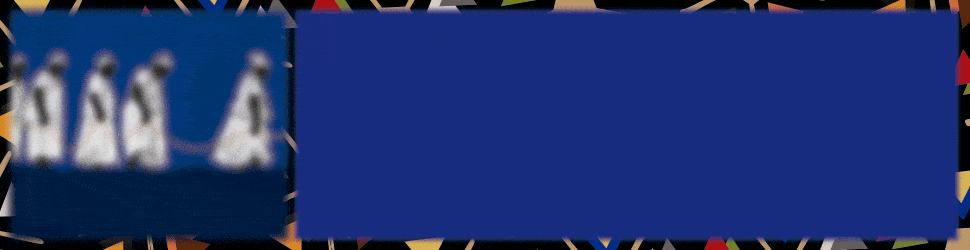Quando inventei no alto de minha pouca idade que queria ser artista, pedi a meu pai para me ensinar alguma coisa. Hoje sei que esse pedido foi um gesto, um corte seco na história que viria a ter com ele e com a arte.
Meu pai não esperou sequer o outro dia para me presentear com o revolucionário brinde.
Fomos ao quintal de parede chamuscada de rosa onde se encostava um time de coisas que poderiam parecer tralhas para algum desavisado. Tudo ali descansava esperando ser convocado num ligeiro presente ou num futuro de sabe-lá-deus-quando.
Deitado numa quina nos aguardava um cabo de pau de goiabeira. O coroa o pegou, fez uma forcinha com ambas as mãos e percebeu que a madeira aguentava: “Olha: enverga mas não quebra”. Sorriu.
Azul claro era a outra banda do quintal e foi dali que secou numa lapuada a lata que servia de cuia para o tanque de lavar roupa. Naquela tarde, quem também perdeu parte de seu conjunto foi o coitado do varal; coisa de mais ou menos um metro de arame. Juntou tudo no chão e em dois tijolos, um de frente para o outro, sentamos.
Pediu para segurar forte uma das pontas da madeira enquanto na outra ele rasgava uma fenda e enrolava o começo do arame. Invertemos a pegada e dali nasceu um arco. No fundo da lata, duas marteladas macias com um prego grosso bastaram para abrir um par de furos que serviu de passagem para um cordão: nele um nó que veio abraçar o pé do arco.
Ainda sentado, caçou uma ficha e nos levantamos. “_Bata assim”. Arrochou na minha barriga a boca da lata pressionada pela minha mão esquerda.
“_Bóra”. Saí exatamente como estava atrás dele, sem deixar cair todo aquele investimento, andando e descobrindo ainda precisar das últimas peças.
“_Bate com esse aqui”. “Esse tá ruim”. “E esse aqui”. “Ruim, fraquinho”. “Esse aqui”.
E o escolhido foi um raio de roda de bicicleta.
Pediu para ir batendo metal com metal, sem deixar aquilo tudo desabar. Foi um tif-tif-tif-tif-tif disparado, sem fim nem recomeço. Coisa feia.
“_Vai tocando que vou catar um negócio aqui”.
E era eu no tif-tif-tif-tif e meu pai sacudindo uns grãos em uma caixa de comprimidos. Fechou bem lacradinha e a casou entre os últimos dedos da mão direita. “_Muito bem, agora deixa eu tocar um pouquinho”.
Pronto.
Meu pai abraçou o berimbau mad max como se nunca tivesse um filho para abraçar.
Quando o raio de bicicleta deu a pancada, afastou da lata a barriga e o tif-tif-tif-tif virou um “boOUuuummm… bOoUuuumm… boOUuuummm”. Dali a pouco entendi a tarefa da ficha que beijava de vez em quando o arame e assobiava um “tisc-tisc-tisc-tisc”.
A caixinha com sementes era o caxixi: “xá-xá-xá-xá”.
Já quase noite, meu pai olhando as estrelas cantou e ensinou a um menino:
“_Olha pro céu meu amor, vê como ele tá liiiindoooo…”
Era forró. Som de anjos, caboclinhos e erês. Era, sim, forró.
O forró no berimbau foi a partitura repetida não exatamente no aprendizado daquele instrumento, mas na vida. Tudo posso naquele que fortalece a pisada e o desejo de romper com a hegemonia passiva da realidade, rimando arame com lata sem que sinta a falta dos convencionais triângulo, zabumba e sanfona; trio que por si já é um drible e uma subversão danada. Tudo pode servir à minha necessidade desde que eu sirva ao propósito da transformação.
Dali pra pintura foi um pulo. Pegar a ripa, serrar a ripa, emendar, fazer o quadro, esticar o pano, pintar o pano, riscar o pano. Cinco tintas básicas é o bastante pra fazer qualquer cor existente no mundo.
Ficaremos devendo? Talvez, mas só se compararmos ao mais afortunado pintor. De resto, fazer bonito e não dever nada a ninguém é puro forró.
Pintar como se toca um berimbau, o som mais celestial do mundo. Pintar como um ofício, pintar como uma professora, um marceneiro, pintar como uma marisqueira, como um sapateiro, uma parteira, um alfaiate, uma pintora. E ganhar. E viver bem. E melhor. E ainda melhor. Agora avaliamos todos com o mesmo tanto que têm alguns? Espaço, tudo. Saberes em revolução.
Existimos e fazemos forró o tempo todo; porém um país que muda de calçada toda vez que vê um sujeito carregando madeira, arame e lata ao lado de seu filho dificilmente saberá ouvir estrelas. Mesmo assim, podemos ter fé que ainda tem jeito; pra tudo há salvação.
Alan Adi é artista visual. Vive e trabalha no Rio de Janeiro e em Sergipe. Sua pesquisa discute temas que ficaram condicionados ao Nordeste, evidenciando a produção artística da região e construindo obras que discutem questões relacionadas à formação da sociedade brasileira. Expôs na coletiva Sobre os Ombros de Gigantes, curadoria de Raphael Fonseca, na Galeria Nara Roesler, e realizou individual no MAC Niterói.